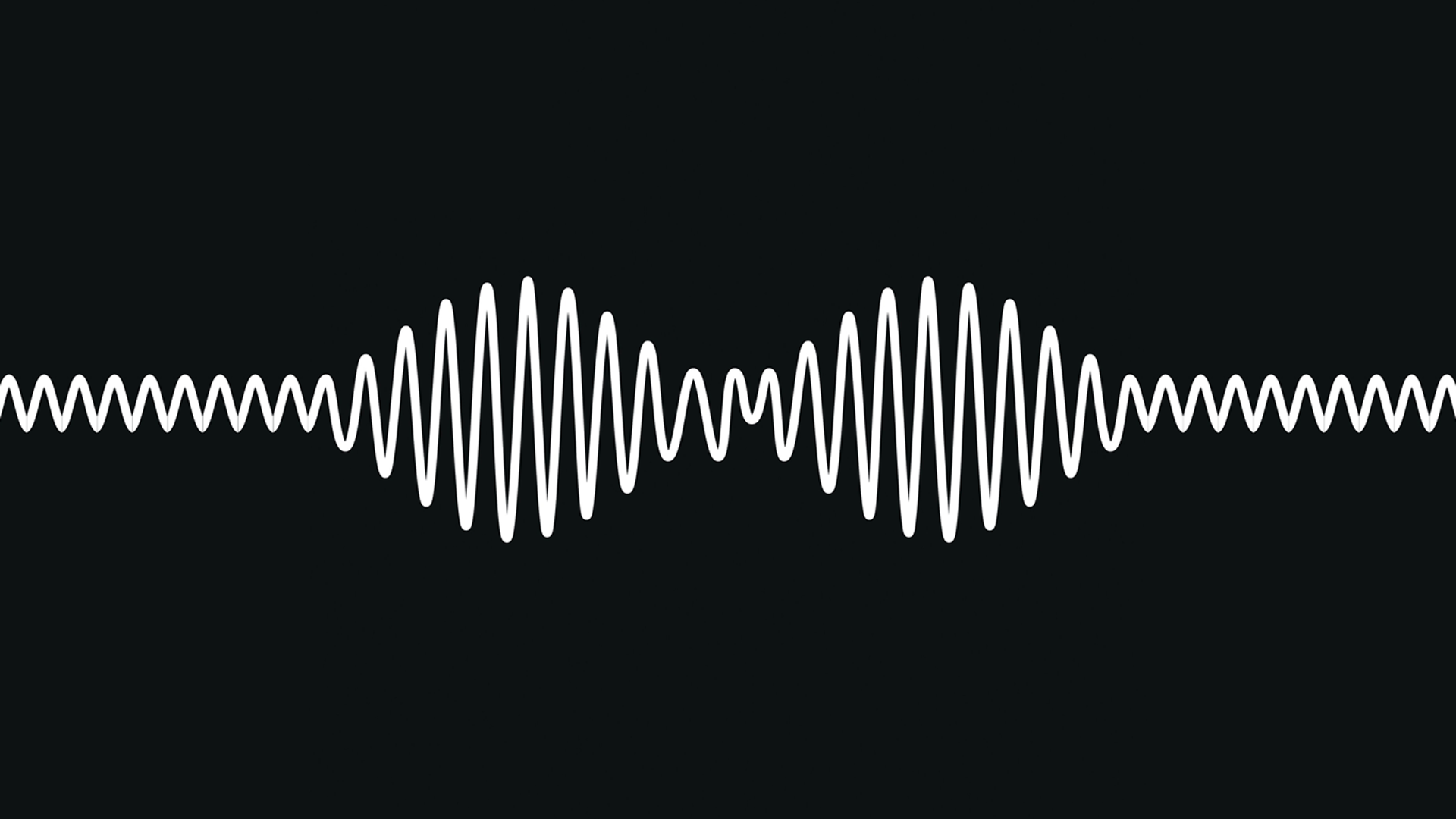Amor combate
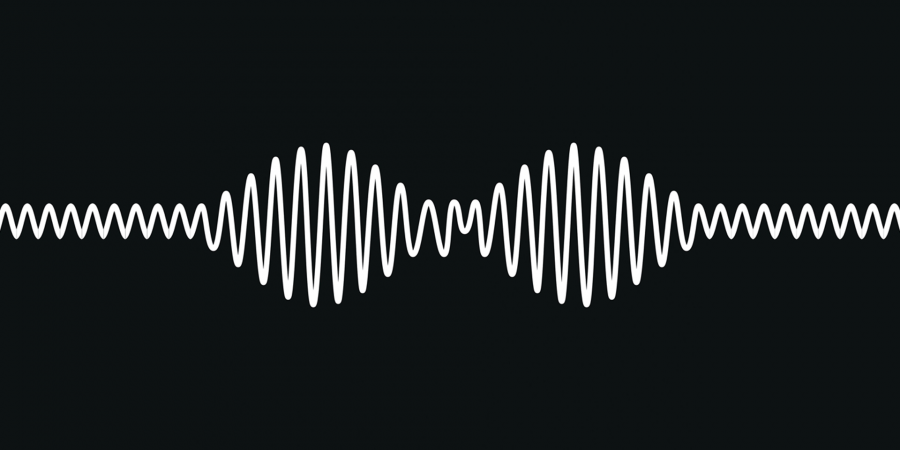
Inícios de década costumam ser de transformação. Foi assim em 1981 com o pós-punk e os neo-românticos. Foi assim com a classe de 91 dos Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers ou Metallica, mas também com álbuns como Blue Lines dos Massive Attack, Screamadelica dos Primal Scream ou Achtung Baby dos U2. E voltou a sê-lo em 2001 com os Strokes, os White Stripes e a realidade virtual dos Gorillaz. Há dez anos, em 2011, começava a discutir-se algo inimaginável até então. A perda de vínculo do rock com a juventude e a classe operária, e por consequência com a cultura popular, enquanto o hip-hop tomava conta dos iPods e do YouTube. Vozes lúcidas como as de Bobby Gillespie dos Primal Scream questionavam uma nova estirpe indie de origens burguesas, estupenda a produzir refrões para telemóveis e hinos para atestar a barriga de cerveja em festivais, mas cada vez mais distante dos problemas das pessoas. Enquanto isso, o hip-hop capturava muitos dos símbolos do rock: a subversão, a energia, o cabedal e as calças rasgadas. Uma geração liderada por Kanye West e demais seguidores ou contemporâneos (Drake, Kendrick Lamar, The Weeknd, A$ap Rocky, Tyler The Creator, Frank Ocean, Future, Chance The Rapper, Miguel, Childish Gambino, Kid Cudi) trazia um novo som, um novo discurso e uma nova imagem: a democratização desfalecida do rock.
Esses sintomas suplantavam o debate importante mas minimalista entre o rock e o hip hop. Eram também sinais da influência da cultura de Internet. De uma nova relação, sem filtros, com a música em que o estar à espera da imprensa, rádio ou televisão era complementado ou substituído pela procura através de motores de busca. A indústria, sobretudo a dos festivais, reagiu com o negacionismo habitual, mas o que é certo é que desde os anos 50 não havia um período tão pobre em bandas rock capazes de expressar carências colectivas. Enquanto os Foo Fighters e os Muse cimentavam o estatuto de cabeças de cartaz, abastecendo-se da nostalgia de uma geração cada vez mais carente de referências para se sentir adolescente por uma noite, a juventude inquieta não estava nem aí. A carga eléctrica foi o colete salva-vidas das bandas rock nos festivais de grande porte porque, de resto, a música foi cada vez mais reduzida a uma representatividade saudosista. No verão de 2017, Dave Grohl vaticinava um regresso aos lugares cimeiros, em vésperas de Foo Fighters e Queens of The Stone Age voltarem à carga com novos álbuns. “Vamos dominar o mundo juntos. Porque não?”, interrogava-se afirmativamente à Music Week. Mas ao olharmos para os mais ouvidos de 2017, vemos Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Drake, The Weeknd, Rihanna, Taylor Swift, Justin Bieber, os Coldplay e Despacito. Nem uns nem outros capitalizaram em atenção a capacidade de mobilização nos grandes palcos.
Houve sempre excepções, contudo. Os Arctic Monkeys souberam crescer como poucos e assinaram em AM um corajoso acto de ruptura, nem sempre reconhecido dessa forma, é verdade. Os Arcade Fire reinventaram-se com inteligência e frescura em Reflektor. Os Tame Impala construíram um sólido património eléctrico na tríade InnerSpeaker, Lonerism e Currents. Jack White foi electrizante em Blunderbuss e Lazaretto. E houve vários outros nomes credíveis como War on Drugs, Thee Oh Sees, Metz, Protomartyr e a enorme família de bandas e satélites do californiano Ty Segall. Todas elas construíram um relacionamento com base na honestidade, mas raro, raro foram grupos como as Savages. Quatro mulheres capazes de traduzir agressividade, risco, incerteza, perigo, fragilidade, instabilidade e feminilidade. Enquanto Dave Grohl pensava no rock como um número e uma hierarquia, Jehnny Beth e companheiras canalizavam para as guitarras e secção rítmica uma pulsão urgente e feroz. Uma força de expressão tão necessária como a dos afro-americanos que plantavam algodão nas margens do Mississipi e usavam o canto para dar voz à angústia provocada pela escravidão. Essa canção de protesto a que se deu o nome de blues exteriorizava o sentimento de opressão dos negros explorados e serviu para talhar as fundações socio-políticas do rock.
Os papéis inverteram-se. Houve quem defendesse a morte do rock, como se fosse possível matar um género com fundações tão longínquas e sólidas. No seu serviço de atendimento ao público, Nick Cave declarou que “o rock moderno, como o conhecemos, já está doente há algum tempo” mas enquanto olhava para a floresta, bandas como os Idles e os Fontaines DC voltavam a dar bom nome à causa. A sombra do pós-punk pode até pairar. A paternidade inesperada dos The Fall e de Mark E. Smith reconhecida, mas é muito redutor observá-las apenas de um ângulo estético-anacrónico. Antes de mais, devolvem-nos a uma relação com o outro que passa por um escrutínio quase jornalístico dos factos – por exemplo, a gentrificação em Dublin, de onde os Fontaines DC são naturais. O rock é a formulação sónica achada para veicular o inconformismo, e não o contrário. Não há uma relação de puritanismo intolerante e severo, como historicamente aconteceu. Aliás, os Idles reconhecem no hip-hop e em figuras como Mike Skinner (The Streets) uma grande importância para o seu discurso.
Vivemos num tempo espartilhado entre a fluência do pós-género, em que a música vale por si, e um pós-tribalismo de inscrição social, traduzido por playlists de género, em que o desejo de descoberta é suprimido pela vontade de ouvir o mesmo de diferentes maneiras. Mas aqui chegados, há que inverter o discurso e não cair na tentação de o repetir. Há vinte anos, a vitalidade do rock já era a questionada quando bandas como os Strokes, os White Stripes, os Hives, os Interpol e os Black Rebel Motorcycle Club, entre várias outras, o “ressuscitaram”. Mas aí sim, tratava-se de um revivalismo estético do punk, da new wave e do pós-punk, gerador de uma brisa ilusória de frescura, quando era apenas a história a reciclar-se. Do que estamos a falar agora é de um movimento contracultural, encabeçado por Idles e Fontaines DC, e a ganhar novos reforços. 2020 deixou-nos álbuns das Porridge Radio e dos Sorry. Deixou-nos fortes indícios dos Black Country New Road (For The First Time chegará a 5 de fevereiro com o selo da Ninja Tune), dos Squid (contrato com a Warp) – prova de que a linha da frente da eletrónica está atenta aos desvios à norma – e dos Dry Cleaning (nova aposta 4AD). E 2021 começa com os Viagra Boys e os Sleaford Mods a combater o cinismo com veneno e ironia, em, respectivamente, Welfare Jazz e Spare Ribs; os Shame, finalmente a captar em disco a electricidade do palco, a expressar dores de crescimento em Drunk Tank Pink; e prova da influência transatlântica dos Idles, os TV Priest têm estreia marcada com Uppers a 5 de fevereiro pela Sub Pop.
É o rock de regresso às suas raízes essenciais, de onde parte o ímpeto contestatário ao Brexit, ao desemprego, à precariedade, à turistificação, ao machismo, ao racismo e à desigualdade transversal. Em 2020, casos como os Sault ou os Run The Jewels devolveram a música popular ao protesto. Em 2021, não vamos perder o chão deste amor-combate. Um clube de combate.