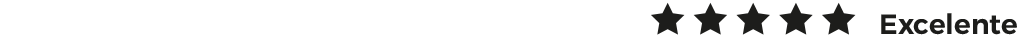Achille Mbembe e o que herdamos do Colonialismo e do Imperialismo Ocidentais

Aos olhos do Ocidente, a história de África (mas também da América) começa com o Colonialismo, a partir do séc. XV, que aos olhos dos colonizadores, era responsável por trazer África (e a América) para o mundo, ignorando os milhões de Homens que já viviam nesses continentes, com a sua própria história, aniquilados, quando não escravizados, pelos colonizadores. Só no século XX, com as Guerras de Libertação Nacional, estes povos subjugados se conseguiram soltar das amarras do colonialismo que, entre outros, tinha trazido a escravatura e a discriminação.
Essa nova independência e liberdade não viria, no entanto, a resolver todos os problemas causados ao longo de cinco séculos, que haviam deixado graves fissuras nos colonizados. Porque, se se pode dizer que a escravatura foi efectivamente abolida e é repudiada pela grande maioria dos ocidentais de hoje, os estragos que causou não foram apagados simplesmente pela mesma ter deixado de ser imposta, já nem referindo os séculos de trabalho forçado que se seguiram. Num mundo pós-colonial, onde os povos colonizados conseguiram finalmente auto-administrar-se através de estados independentes, a memória do que se passou e, mais do que isso, as suas consequências, ainda estão inteiramente presentes quer na vida Ocidental, quer, essencialmente, na dos povos anteriormente colonizados.
Em Crítica da Razão Negra, publicado pela Antígona em 2014, Achille Mbembe, filósofo e cientista político camaronês, um dos pensadores maiores do pós-colonialismo, propõe-se agregar num livro os diferentes conceitos e abordagens que marcaram o pensamento raciocinado sobre o Negro, enquanto raça, enquanto ser. Partindo dos conceitos desenvolvidos por pensadores antes de si, dos quais Frantz Fanon merece o principal destaque, a obra remete-nos para a Négritude de Aimé Césaire ou para o Movimento Pan-Africano de Marcus Garvey, aos quais reconhece imensas valências, mas que critica por perpetuarem o conceito de raça, a distinção entre Negro e Branco. Assim, estes resgatam o Negro da subalternidade, dando-lhe uma identidade própria, tão relevante quanto a do Branco, mas continuam a manter a raça enquanto conceito diferenciador. Urge, então debater esta razão negra, como o próprio explica:
“A expressão razão negra remete para o conjunto das deliberações acerca da distinção entre o instinto animal e a ratio do homem – sendo o Negro o testemunho vivo da própria impossibilidade desta separação. (…) Debater a razão negra é, portanto, retomar o conjunto de disputas acerca das regras de definição do Negro”
O que é, portanto, ser Negro? Nos dias de hoje, a raça é tomada como dado adquirido, mas “longe de ser espontânea, esta crença [na raça] foi cultivada, alimentada, reproduzida e disseminada através de um conjunto de dispositivos teológicos, culturais, políticos, económicos e institucionais, dos quais a história e a teoria crítica da raça acompanharam a evolução e as consequências ao longo dos séculos.” O Negro é, então, uma criação do colonialismo e do imperialismo, através do retirar de toda a humanidade de alguém que usava apenas em proveito próprio. Da mesma forma, “o Branco é, a vários respeitos, uma fantasia da imaginação europeia que o Ocidente se esforçou por naturalizar e universalizar.” Tudo feito para justificar um projecto imperial em que o homem branco, “confundido a “civilização” com a própria Europa”, seria, segundo o próprio, o único a possuir vontade e capacidade de construir um percurso histórico, impondo-se, com recurso à força e à violência indiscriminada, às indígenas sociedades primitivas, regidas pela “mentalidade selvagem.”
Com o apogeu do tráfico de escravos a dar-se em pleno séc. XVIII, durante o Iluminismo, o conceito de modernidade será, então, inseparável do colonialismo, “o seu advento coincide[nte] com o surgir do princípio de raça e com a lenta transformação deste princípio em paradigma principal, ontem como hoje, para as técnicas de dominação”, e do capitalismo, sendo “a colonização (…) uma forma de poder constituinte, na qual a relação com a terra, as populações e o território associa, de modo inédito na história da Humanidade, as três lógicas de raça, da burocracia e do negócio (commercium), (…) onde um sistema económico fundado na escravatura contribuirá de maneira decisiva para a acumulação primitiva de capital.” Desse modo, “as ideias modernas de liberdade, igualdade e até de democracia são (…) historicamente inseparáveis da realidade da escravatura.”
Além de “operação do imaginário”, erguida de modo a perpetuar a relação de forças e a acumulação de capital pelas potências europeias, a raça era “um dispositivo de segurança fundado naquilo que poderíamos chamar o princípio do enraizamento biológico pela espécie”, onde a diferença de qualidade entre as raças se fazia da mesma forma em que, antigamente, recorrendo à temática do sangue, se assegurava os privilégios da nobreza. Neste período pós-colonial de hoje, no entanto, o lugar da biologia foi substituído pela cultura e pela religião, tornando-se estas o novo argumentário discriminatório. Protegidos atrás de uma política de assimilação onde o objectivo é dessubstancializar a diferença, consideram-se cidadãos aptos para usufruir dos direitos cívicos apenas os indígenas “convertidos” e “cultos”.
O seu mais recente livro, Políticas de Inimizade, publicado este ano também pela Antígona, é o aprofundamento destas questões, principalmente no que toca às convergências do pensamento do autor com o de Frantz Fanon, e tomando em conta os acontecimentos que vão marcando a segunda década do séc. XXI, como a crise dos refugiados, ou o aumento securitário face às recentes vagas de terrorismo.
Para tal, parte da própria noção de democracia que, segundo o próprio, “contém em si a colónia” mas sobretudo da de soberania, expondo a sua interligação com a violência. Mbembe vai além do conceito de biopoder, de Michel Foucault, falando então de necropoder, a utilização da morte enquanto sistema de poder. Para tal, utiliza exemplos como Israel (e a Palestina), mostrando como a soberania é agora exercida através da criação de zonas de morte, onde esta se torna o último instrumento de domínio e a principal forma de resistência.
Não é só fora do Ocidente, no entanto, que os conceitos de violência e soberania estão interligados. A própria soberania, segundo o autor, demonstra a inexistência do estado de excepção, especialmente em foco nos dias de hoje em casos como o estado de emergência em França, onde, recentemente, Emannuel Macron decidiu inscrever na lei medidas que estavam consagradas apenas no dito estado de emergência, tornando-as permanentes. Atacando os direitos, da mesma forma que o fazem os actos terroristas, “o Estado securitário alimenta-se de um estado de insegurança que ele próprio fomenta e para o qual pretende ser a resposta” utilizando a “reprodução alargada do sentimento de terror” para “fabricar espantalhos destinados a meter-lhes medo.” Nada disto, irá, portanto, parar num futuro próximo, já que “a paz civil no Ocidente depende, assim, em grande medida das violências à distância, de fogos de atrocidades que se acendem, de guerras de feudos e de outros massacres que acompanha o estabelecimento de praças-fortes e de feitorias nos quatro cantos do planeta” e “da institucionalização de um regime de desigualdade à escala planetária.”
Na Europa, colocam-se “agora questões mais ou menos semelhantes àquelas que, há bem pouco tempo, inúmeras sociedades não-ocidentais, apanhadas nas malhas de forças muito mais destrutivas – como a colonização e o imperialismo – enfrentaram”. Teme-se a chegada de quem vem de fora, não se pensando que, nesses locais de onde as pessoas saem, a mesma reflexão terá sido feita quando, em termos bem mais violentos, os ocidentais lá chegaram em séculos anteriores.
Fruto desse imperialismo europeu, que levou à migração coerciva de seres de tantas outras partes do planeta, somos, e seremos sempre, seres de fronteira, “feitos de pequenos empréstimos de sujeitos estrangeiros”, e a nossa identidade não “uma questão de substância mas de plasticidade, (…) de composição, de abertura para o exterior de outra carne, de reciprocidade entre múltiplas carnes e os seus múltiplos nomes e lugares.” No entanto, “o sujeito racista reconhece, em si mesmo, a humanidade não naquilo que o faz a mesma coisa que os outros, mas naquilo que o distingue deles”, numa permanente divisão entre eles e nós, responsável pela “reprodução a uma escala molecular da violência de tipo colonial e racial.” Nesse ponto, Mbembe é muito claro: só é possível “imaginar um mundo verdadeiramente comum e uma humanidade verdadeiramente universal” quando formos capazes “de assumir as memórias de Todo o Mundo.” Até lá, muito há ainda por fazer, mas talvez ler Achille Mbembe seja um dos passos importantes nessa direcção.